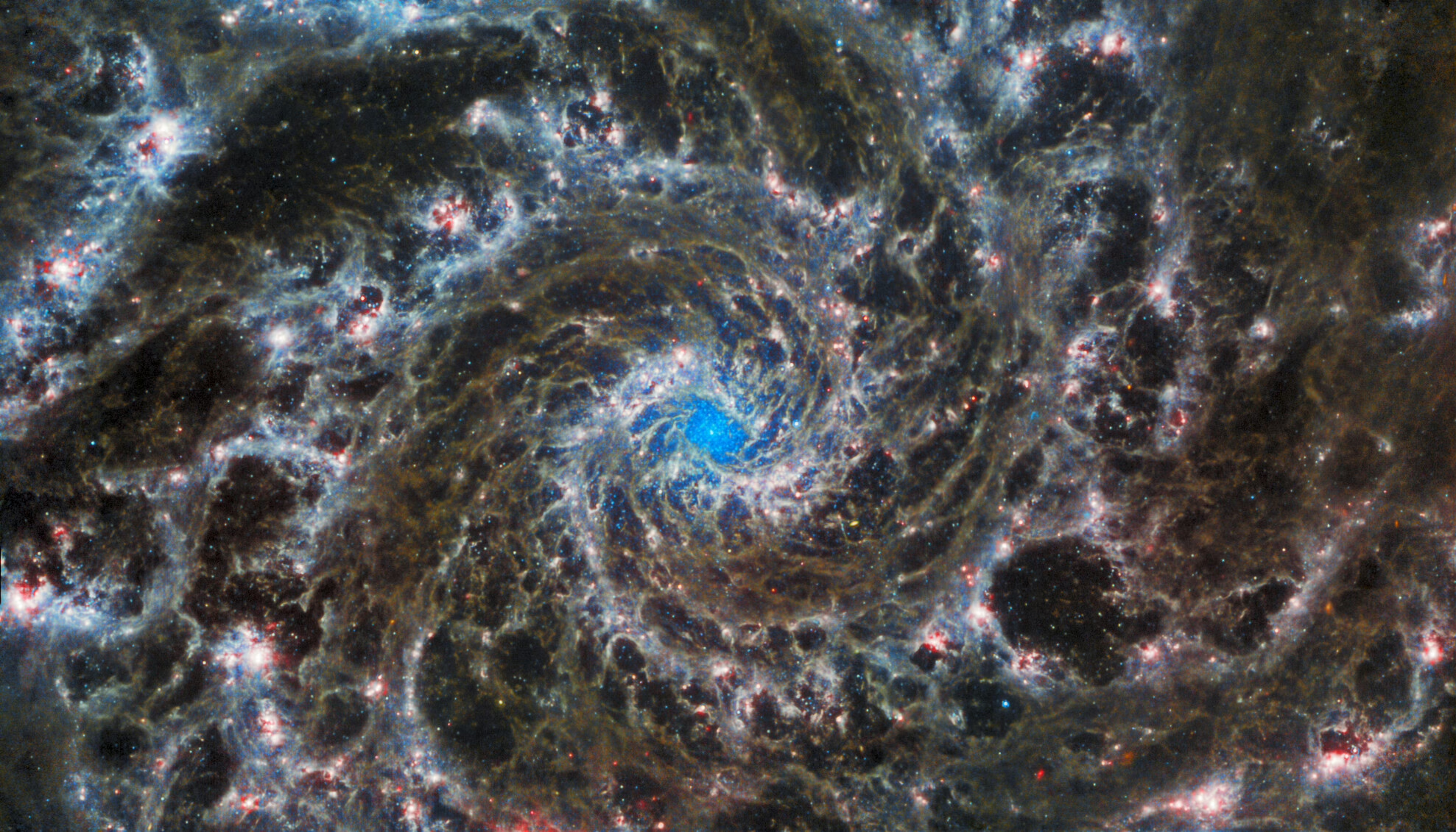Apesar de trabalhos de pioneiros como o Suicide, a interseção entre música “pesada” (especialmente punk e metal) com eletrônica é uma história de erros, falhas e muita porcaria. De Rick Rubin escolhendo guitarras para estragar a revolução das MPCs no hip hop com o Run DMC ao “digital hardcore” do Atari Teenage Riot, passando pelo nu metal, trilhas sonoras de filmes como Judgment Night e Spawn e o trapnejo de Post Malone, pode-se dizer que esse tipo de tentativa produziu resultados, na melhor das hipóteses, irregulares.
Apesar do histórico horrendo (cercado por um virtuoso punhado de exceções, de Prodigy a Kanye West), o projeto de enfiar guitarras nos sintetizadores nunca foi abandonado, e recentemente deu para entender que há saídas excelentes para esse beco sem saída – especialmente vindas dos rincões do mundo.
Com mais de uma década de atividade, o duo britânico Sleaford Mods é talvez o exemplo mais bem acabado dessa safra. Vindo da modorrenta Sheffield (terra do Robin Hood!), Jason Williams, vocalista e mente por trás da banda, escolheu o nome de uma cidade menor ainda, na mesma região de East Midlands, para batizar seu projeto – “lembra um grafitti vintage ou uma frase costurada em uma bandeira britânica balançada em um jogo do time da Inglaterra há 35 anos atrás”, comentou Mark Fisher em sua resenha sobre Divide and Exit, de 2014.
O “mod” do nome do duo é trucagem das boas. O som não tem nada a ver com nenhuma das “fases” do mod britânico, seja suas origens modernistas, seu “ápice” enquanto movimento-ostentação da classe trabalhadora inglesa ou seus revivals (sobretudo do excelente The Jam).
A referência mais direta, para quem ouviu uma ou duas coletâneas de pós-punk, é no The Fall de Mark E. Smith, com seu cantofalado, economia musical e velocidade de produção. O que é meio maluco porque Jason diz com todas as letras que, apesar de respeitar o grupo de Manchester, nunca foi um grande ouvinte do Fall: segundo Williams, sua inspiração inicial foi o Wu-Tang Clan. Ele só se esqueceu de meter um flow. Mas isso não reduz em nada a qualidade do Sleaford Mods.
As letras de Jason são, certamente, o ponto focal do duo. Da boca suja do cantor, além de palavrões e xingamentos típicos de papo de pub embalando tiradas contra os mais diversos tipos, de grafiteiros fingindo pobreza ao UKIP, partido que levou a Grã-Bretanha ao Brexit, aparecem diversos personagens, desesperados com a sua condição subalterna no coração do ex-império mais famoso da história recente.
Foi no embalo do ótimo UK GRIM, álbum de 2023, e do recente relançamento de Divide & Exit, que a dupla baixou em São Paulo em pleno 2 de novembro (era Finados…) para a perna brasileira da sua primeira turnê sul-americana. Apesar da chuva torrencial, o Carioca Clube estava lotado – quem é essa gente?, fiquei me perguntado, uma vez que não teve uma mísera alma no meu círculo social que não me olhava com cara de ponto de interrogação quando anunciava nosso então mais recente podcast sobre o Sleaford Mods.
No palco, o Sleaford Mods compensa a possível pobreza cênica de uma apresentação de eletrônica com uma entrega impressionante para dois tiozinhos que já passaram dos 50 anos. Andrew Fern, o moço das bases, ao completar seu meio século de vida deixou seu antigo ritual de ficar mamando uma garrafa de cerveja parado enquanto apertava o play e se tornou um Bez versão professor de lambaeróbica: dança pulando, erguendo os membros ao máximo, saltitando de um canto ao outro no fundo do palco. Jason, por sua vez, não deixa barato: faz cara e bocas, sua que nem um porco, para com a mão na cintura, faz da garrafa d’água um chifre para seu unicórnio desbocado.
A plateia até se empolga, um pouquinho, mas o popular moshpit, a “roda punk”, fica para o final mesmo, lá por Jobseeker, vigésima-quinta música do setlist e um dos seus primeiros singles de sucesso, a história (mais que real) da vida de um semi-empregado britânico que passa mais tempo no Jobcenter (essa doideira europeia conhecida com “agência de empregos”, custeada pelo governo) do que em trabalhos em si, sempre puto, sempre frustrado, regularmente bêbado.
Em “Tweet Tweet Tweet”, outra surpresa do público: cantamos em uníssono o “riff” da faixa, como se fosse um show do Iron Maiden em que a galera “canta” o solinho do Adrian Smith. Mais tarde, duas surpresas, dando aquela olhada no Instagram. Os argentinos fizeram essa idiotice de “cantar o riff”, e Jason Williams agora é um colecionador de pisante e pano. É bom ter algum lugar pra se gastar dinheiro, mas novamente fiquei me perguntando: o que Marquinho Pescador diria sobre essa onda alta-baixa-costura do Jason? Sei lá, mas bom, o show foi fera, é chocante ver um grupo mais britânico que casamento com primo fazer tanto (algum, que seja) sucesso por aqui, e bem, se eles quisessem saber como é mais treta (ainda) viver por aqui, eles que perguntassem pro Manu Chao.
Deixa eu ver se eu entendi
Dias antes, em meados de outubro, a 2 quadras dali, em uma mísera portinha que dá para um espaço típico de punk, o Cafun.Do, o mineiro-baiano Pusher 174 fazia seu show de estreia da vida. E o Crise Crise Crise, com nossos camaradas da Pó de Vidro, estava lá para gravar nossa estreia em vídeo com o minidoc O Novo Punk é Um Ventilador.
Com 21 anos, Luis Henrique é um prodígio. Começou a “carreira” artística aos 13 anos, no trap. Seu maior sucesso como produtor, até agora, foi um remix de “Perfume”, faixa “vazada” de Playboi Carti (artista que vaza as próprias faixas às dezenas) e o chamou de “Pimp $hit”, sob a persona Yunglocky – ele diz ter pago uma já abandonada faculdade de psicologia com o dinheiro arrecadado com os milhões de views amealhados pela faixa. Mas há seis meses sua sorte mudou.
Inspirado principalmente pelos Dead Kennedys, aos quais foi apresentado pelo pai também músico (frustrado, para que não apareça alguém aqui falando de nepo qualquer coisa), decidiu usar o mesmo Fruity Loops em que compunha seus traps para fazer punk. Com a guitarra Jackson amarelada do pai, compõe ou retoca riffs de clássicos do gênero, faz o baixo tocando a mesma guitarra mas deixando o registro dela uma oitava abaixo, mete uma bateria eletrônica e plah! Lá tá mais um sucesso do Tik Tok.
Pusher (alcunha adotada do título de trilogia de Nicolas Winding Refn, mais famoso como diretor de Drive) diz compor uma faixa, incluindo as letras, em 2 horas. Nesse ritmo, com um semestre de produção, lançou 4 EPs e 4 álbuns. Nem tudo é punk: há muito do pós-punk (Gang of Four, sampleado em um de seus sucessos, é uma referência sempre lembrada), e até um tiquinho de indie. Mas são as faixas decalcadas do espírito mais punk nacional ’80 possível que o levaram à (ainda magra) fama.
A produção pollardiana (de Robert Pollard, jovem leitor) no volume também se reflete na duração das faixas: simplesmente não existe música com ao menos três minutos, e a média fica abaixo de um minuto e meio. Além da semelhança com o Guided by Voices pela duração e quantidade de música produzida, ainda divide com os estadunidenses também do fundo da grota (Daytona, no caso de Pollard, Arraial D’Ajuda no caso de Pusher, cidadezinha idílica litorânea no sul da Bahia, invadida sazonalmente por playboys paulistas que se acham os donos do pico) a escolha pela gravação lo-fi, que se iniciou logicamente pela possibilidade de se registrar as músicas com a urgência que passam, mas está cada vez mais se tornando uma marca estética.
O semi-sucesso começou no TikTok, com um mini-clipe de “Deus Pátria e Família”, uma tirada anti-bolsonarista de refrão grudento que já é um clássico para jovens selecionados, antenados e com falta de letras acessíveis e melodias gostosas que os representem enquanto quase humanos do capitalismo tardio.
É meio dado, hoje em dia, que esse tipo de mini-sucesso já atrairia haters. Além do clássico “ah mas esse cara não é punk, nunca veio aqui exatamente no boteco que a gente toma rabo de galo e ouve fitinha do Ramones!”, nos comentários do nosso mini-doc, apareceram ideias como “ah, mas isso é igual trap, que rock o quê!”.
Há sim algo do trap no fundo, mas assim, não foi o trap que inventou a canção. A experiência com hip hop claramente dá muita vantagem para Pusher em relação à média (péssima) das letras do rock nacional – e inclusive a predileção pelo trap, com suas métricas mais curtas (que, como lembra Don L, facilita muito a vida do rapper que rima em português, uma língua de sílabas longas) se traduziria com facilidade para o punk.
Mas Pusher está muito além disso, atirando para todos os lados, tentando emular um gótico bem Madame Satã com, sei lá, “Eu Mudei” ou o Kurt Cobain rasgando as cordas vocais em “Êxtase”. E a bateria eletrônica, como no caso do Sleaford Mods, permite que Pusher eludir um dos Axiomas Crise Crise Crise™: “para uma banda punk ser realmente boa, precisa de um baterista bom de verdade” (há exceções, claro).
Também como Jason Williams, Pusher é desbocado: nenhuma faixa do seu mais recente álbum, Cérebro Dormente não é classificada no spotify sem ser “explícita” (ou seja, sem palavrão). Mas ao contrário do formato mais narrativo do Sleaford Mods, o papo aqui é para ofender as classes mais abastadas do feudal Brasil de 2024, como “Elite do Atraso” e “Playboy”, as superestruturas que mantém tais elites no poder (“Foda-se Suas Leis”) ou mesmo a autoreflexão (“Garoto de Internet”), sempre sob uma perspectiva esquerdista radical.
Pusher parece acertar mais (talvez pela forma de compor, sempre tentando compor e gravar uma música inteira em no máximo 2 horas, com letra e tudo) quando encontra boas saídas melódicas, que lembram mas nunca soam efetivamente decalcadas do punk mais clássico, de Clash e Buzzcocks a Cólera e Inocentes. E mesmo quando busca inspirações mais “difíceis”, acaba soando mais acessível que o original: Mark Fisher (ou talvez mesmo Mark Stewart, ainda vivo) empalideceria com o uso da guitarra de “She’s Beyond Good and Evil” do Pop Group no funk romântico de “Espírito Animal”.
O formato escolhido por Luis para se apresentar ao vivo (até o momento deste texto, foram 3 shows – todos vistos por este que vos escreve), bases, baixo e vocais, facilita sobremaneira uma vida cigana, que ainda não aconteceu: Pusher ainda está se acomodando, recém mudado para o fundão da zona leste paulistana.
Enquanto isso, sua música não para de evoluir: como o próprio punk, parece estar se aproximando de uma fase hardcore, como pode-se atestar a recente “Que Se Foda”, ou as três bandas que carrega em patches feitos à mão na única calça que parece possuir: Minor Threat, Black Flag e Circle Jerks.
Se essa cada vez mais acelerada ascensão vai estancar, parece que só Pusher pode dizer: ainda não lançou nenhuma faixa desde que passou a morar na terra de arranha-céu, mas diz estar preparando disco novo para logo. O futuro é alvissareiro para Pusher, para o desespero de todos os cus e posers do rolê.